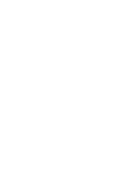Foto: Divulgação | Victor Affaro. Disponível em https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/o-canto-de-despedida-de-elza-soares-3195658e.html
Códigos machistas de vestimenta dão mais atenção ao modo de vestir das mulheres que ao seu talento ou personalidade.
Em 1953, uma caloura mal-ajambrada, usando o vestido da mãe, ajustado com alfinetes de fralda para disfarçar os mais de 20 quilos a menos, penteada com uma ingênua maria-chiquinha, compareceu ao programa radiofônico Calouros em Desfile, apresentado pelo compositor Ary Barroso. Quando subiu ao palco, o apresentador, aos risos de deboche, teria lhe perguntado: “De que planeta você veio, minha filha?”.
A candidata, encorajada por saber do talento de sua voz genuína, não se acossou pelo deselegante constrangimento a que fora submetida e prontamente rebateu: “Do mesmo planeta que o senhor, seu Ary. Do planeta fome!”. Aquela voz potente, rasgada, irreverente, ousada —da negra, pobre, desconjuntada e corajosa menina— a todos calou.
Passadas quase sete décadas, o planeta fome continua habitado e superpopuloso, assim como persiste o machismo estrutural, com maior atenção à aparência e ao modo de ser e vestir das mulheres que ao seu talento, personalidade ou êxito profissional.
Em 2015, o Representation Project lançou a campanha #AskHerMore (pergunte mais a ela), com um apelo para que os jornalistas perguntassem mais às atrizes de Hollywood sobre seus papéis e menos sobre seus vestidos e penteados.
Nesse mesmo ano, a campanha #DistractinglySexy (distraidamente sexy), com fotos de mulheres cientistas trabalhando com seus uniformes nada sensuais, viralizou nas redes sociais depois que Tim Hunt, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, disse, em uma conferência mundial, que mulheres eram um fator de “distração” no trabalho.
O que parece uma pergunta fútil, sobre a marca da roupa que a atriz usa, ou um comentário infeliz, como o de que as mulheres distraem os homens nos escritórios ou laboratórios, são um indicativo da necessidade de mudanças urgentes e profundas na postura coletiva em espaços públicos, como forma de garantir a equidade de gênero, de proteger a integridade física e psíquica da mulher, bem como de lhe assegurar a liberdade de expressão e locomoção.
Essas posturas, falas e expectativas sobre a desenvoltura feminina, desde o modo de vestir, podem caracterizar, em algumas situações, estágios gradativos de violência.
Em 2019, em meio às manifestações no Chile que trouxeram profundas mudanças na democracia do país, viralizou a performance “un violador en tu camino“, realizada por mulheres de olhos vendados, que entoavam que a culpa é de quem estupra. Essa coreografia foi encenada em diversas cidades brasileiras, com o refrão “E a culpa não era minha, nem de onde estava, nem de como me vestia. O estuprador era você”.
No ano anterior, 2018, na Bélgica, a exposição “A Culpa é Minha?” exibiu roupas usadas por vítimas na hora do estupro. A mostra teve bastante repercussão, pois, ao apresentar trajes absolutamente normais, refutou-se o óbvio: que não são as escolhas das mulheres sobre suas vestimentas que induzem a violência ou transformam alguém em assediador, importunador e estuprador.
As matérias brasileiras sobre a exposição belga traziam dados de uma pesquisa do Datafolha de 2016, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diziam que, para mais de um terço dos brasileiros, “mulheres que se dão ao respeito não são estupradas” e “mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se for estuprada”.
Por essa razão, o assunto precisa ser apreciado com maior ênfase, devendo ser considerado inclusive no desenho de políticas públicas, na reformulação normativa e no julgamento sob a perspectiva de gênero.
Claudina Isabel Velásquez Paiz era uma jovem guatemalteca de 19 anos, estudante de ciências sociais, que foi encontrada morta com indícios de ter sido estuprada poucas horas depois de a família ter recorrido à polícia, diante de indícios de que sua filha estava em perigo. O Estado determinou que se aguardassem as 24 horas protocolares para o registro do desaparecimento, antes das quais o corpo da vítima foi encontrado.
Claudina foi apontada no processo como “XX”, mesmo depois de sua identidade ter sido obtida. Além disso, houve falhas na investigação do crime em razão de estereótipos de gênero, prejudicando, assim, a observância do devido processo legal pelo simples fato de ser a vítima uma mulher, cujas vestimentas, “gargantilha no pescoço, piercing no umbigo e sandálias”, levariam à ilação de se tratar de uma “bandida” ou “uma qualquer”.
No julgamento do caso Velásquez Paiz versus Guatemala pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconheceu-se a violação, pela Guatemala, ao exercício do direito à vida e à integridade física da jovem, mas se determinou também que seria desnecessário emitir um pronunciamento a respeito das alegadas violações do direito à vida privada, à liberdade de expressão e ao direito de circulação.
Em voto com divergência parcial, um dos juízes consignou que também deveria ser declarada a “violação à liberdade de expressão pela vestimenta, particularmente feminina, em situações como no presente caso, em que o uso de roupas se transforma em elemento de identificação da vítima a camada social especialmente vulnerável e seguida de estigmatização, reconhecendo a negligência do Estado em levar a fundo as investigações de um assassinato.
O argumento do voto é que essa negligência e a violação ao devido processo legal também foram fundadas no fato de o cadáver da mulher ter sido encontrado em um ‘bairro de classe média baixa’”.
O caso aconteceu na Guatemala, mas estampou a violência institucional a uma liberdade de expressão (re)conhecida pelas mulheres brasileiras em seu cotidiano, ainda pouco estudada ou combatida em nosso país: a de aparelhar as instituições públicas e privadas com instrumentos, institutos, normas e outros meios que servem para frustrar a liberdade das mulheres em seu direito de não seguir “códigos de vestimenta” e de adotar a moda, os cabelos, os corpos, as indumentárias, os acessórios, as marcas corporais ou os gestos que quiserem.
Nesse voto, é constatado que a negação da liberdade de expressão de Claudina, pelo seu modo de vestir, foi uma violação “perpetrada pela ação do Estado, que denota que não será garantida a segurança da mulher que simplesmente parece exteriorizar, por meio de suas vestimentas, uma determinada identidade sexual ou cultural, bem como seu pertencimento a determinadas coletividades femininas“.
É também destacado que a liberdade de expressão de vestir tem “conteúdo político relevante”, já que “a escolha individual na vestimenta e adereços que modificam a aparência física serve para exteriorizar a adesão a determinado grupo ou cultura”.
Muito antes da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos brindar com esse caso, Elza Soares, a caloura vinda de outro planeta, já havia exercido sua liberdade de escolha de indumentária e acessórios, transformando o escárnio sofrido em sua aparição inaugural, no programa de Ary Barroso, em manifestação política: nunca mais subiria aos palcos sem um alfinete espetado em sua roupa, segundo ela, “para nunca esquecer de onde viera”.
O estabelecimento de códigos de vestimenta para oprimir as mulheres assume contornos mais perversos quando afeta aquelas já vulneráveis em razão da desigualdade social da realidade brasileira, marcada pela pobreza, restrição de acesso ao emprego, além dos fatores raciais e de gênero.
Os trajes escolhidos pelas mulheres para ir ao trabalho foi o mote do livro “Mulher, Roupa, Trabalho” (2021), de Mayra Cotta e Thais Farage, no qual as autoras debatem padrões e estruturas que, ao enquadrarem determinados estilos e roupas às profissionais das mais diversas áreas e classes sociais, limitam a liberdade feminina e desigualam os gêneros.
Em 2019, ao rememorar sua inspirada e pronta resposta a Ary Barroso na divulgação de seu então recém-lançado álbum “Planeta Fome”, Elza afirmou: “Naquela época, eu achava que, se tivesse alimentos para os meus filhos, não teria mais fome. O tempo passou e eu continuei com fome, de cultura, de dignidade, de educação, de igualdade e muito mais. Percebo que a fome só muda de cara, mas não tem fim. Há sempre um vazio que a gente não consegue preencher e talvez seja essa mesma a razão da nossa existência”.
No mesmo ano, na divulgação do citado álbum “Planeta Fome”, Elza posa num cenário devastado e lúgubre, que remete ao fim do mundo, vestida num macacão de vinil preto colado ao corpo, com apliques contendo dois mil alfinetes, os “mesmos” alfinetes que a espetaram em sua estreia e a aclamaram no final de sua carreira.
Até o fim dos tempos, Elza esbanjou estilo com seus vestidos justos e sua orgulhosa cabeleira black. Usou seus figurinos também para defender questões étnicas, temas sociais, sustentabilidade e brasilidade. Foi autêntica, do princípio ao fim.
A autenticidade da mulher também está no seu direito de usar a roupa que quiser, no âmbito de sua privacidade e no exercício do direito à autoimagem, a despeito de quem seja ou de onde venha, sendo proibidos quaisquer estereótipos de gênero, raça e classe.
Elza Soares nunca hesitou em fazer com que sua voz defendesse essa ocupação do espaço público da mulher, cis ou trans, de vestes recatadas ou exuberantes, do oprimido, do discriminado, da violentada, do esfomeado. Ousou demais, sofreu demais, denunciou demais, resistiu demais, amou demais e, acima de tudo, cantou demais: uma voz rasgada, como se sempre lhe arranhassem aqueles alfinetes da estreia; voz rouca, suingada, brasileiríssima; voz do milênio, segundo a aclamação na rádio BBC de Londres em 1999.
Fez da canção sua declaração de amor à vida e, por isso, prometeu que morreria cantando e não se importou em cantar sentada, porque a vida inteira transformara fragilidade em força. Grata pela vida, cantou Lupicínio Rodrigues, que lhe ofertou uma rosa no início da carreira, com um vestido de tule, bordado de flores, do qual, ao vestir, tirou o forro: era gratidão por poder ser quem era.
As pretas, as pobres, as sofridas, as sonhadoras, as mulheres cis, as mulheres trans, as gays, as travestis. A todas Elza representou, vestiu, cantou, levou ao mundo, amou, deu voz — e que voz!
Arícia Fernandes Correia
Procuradora do município do Rio de Janeiro e professora de direito da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Inês Virginia P. Soares
Doutora em direito, é desembargadora no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3)
(Texto disponibilizado na coluna de Opinião do jornal Folha de S. Paulo de 19 de março de 2022.)